O pensamento político na Época Moderna (I)
Por Bernado Buarque de Hollanda

Rei Luis XVI e sua esposa
Em "A gênese do Estado laico – de Marsílio de Pádua a Luís XIV" (1978), o historiador canadense Gerard Mairet levanta uma questão capital: o Estado moderno, tal como ele se constituiu em teoria e prática nos séculos XVI e XVII, apresenta características que podem ser remontadas ao Estado na Idade Média? A compreensão correta do que se entende por época e por Estado moderno, bem como sua inteligibilidade na contemporaneidade, coloca no centro desse debate a questão da soberania.
Para desenvolver essa questão, é possível evocar, primeiramente, a indagação de Bernard Guenée: "houve Estados no Ocidente nos séculos XIV e XV?". Segundo este Autor, a definição corrente de Estado remonta a um território, onde existe uma população obediente a um governo. Mais do que uma querela de palavras, Mairet entende ser esta uma querela ideológica sobre a natureza do Estado "moderno" e, por conseguinte, medieval, bem como seu termo correlato: soberania.
Durante muito tempo, assinala o mesmo historiador, o problema fundamental do poder no Ocidente consistiu em saber quem é, de fato ou de direito, o detentor do poder. Assim, o que significa exercer o poder, quando este é definido como soberano? A concepção da soberania, dimensão característica ao mesmo tempo que conceito do poder, não introduz uma diferença essencial sobre a natureza do poder?
Para Mairet, se a Idade Média inaugurou a problemática do poder, ela não se constituiu em torno da questão da soberania. A luta do Ocidente medieval, sobretudo a partir do século X, é a luta entre o poder do papa e o poder do monarca ou do imperador. É o conflito entre dois poderes, sobre o qual Gregório VII elaborou sua doutrina da "plenitude do poder". Trata-se assim de uma ilusão retrospectiva falar de soberania em relação ao papa e ao imperador. A luta entre dois poderes – luta espiritual de afirmação de superioridade e de eminência em relação um ao outro – não constitui uma luta por soberania.
Isso porque não pertence ao imaginário dos séculos XIV ou XV que o poder seja da ordem do profano. A Idade Média associa o poder ao sagrado e ao divino e, no conflito entre o temporal e o espiritual, trata-se de determinar quem, o papa ou o imperador, é instituído por Deus. Já a soberania supõe uma concepção laicizada do poder e sua definição em termos exclusivamente profanos. Pode-se objetar que, na época da monarquia de direito divino, o monarca era considerado sagrado e que todo o poder era veículo do sagrado.
De fato, tratava-se da administração pelo soberano de sua própria soberania política. Mas que o soberano venha a justificar-se em Deus não significa que a soberania seja legitimada por Deus. A ideia de legitimidade, pois, é o que especifica a soberania moderna. Nesta, o príncipe é legítimo por ele mesmo, a soberania encontra nele mesmo a sua própria razão de ser.
A Idade Média, sem cessar de oscilar de um poder ao outro, não pode encontrar a solução que o Estado moderno oferecerá e que consiste em fazer coincidir numa mesma unidade o princípio de poder e a forma de seu exercício. Ao considerar a teocracia gregoriana e a questão geral do poder na Idade Média, observa-se que a distinção dos dois poderes é suspendida em nome do princípio do poder e em seu fundamento em Deus. Quem, o papa ou o imperador, pode exercer o poder em nome do princípio divino?
A Idade Média não resolveu esse enigma. Só o século XVI começará a fornecer a solução. Esta se encontra na noção absolutamente nova de soberania. Assim é possível falar de uma ideologia do Estado, que consiste na ideologia da soberania, ou mais, a ideologia do poder profano que se exerce como tal.
Havia um obstáculo na representação da Idade Média, que impedia a formação do Estado no senso próprio do termo. Este obstáculo era aquele da divindade do poder, divindade colocada a priori. O poder é divino, então, a questão do poder é ela mesma a da sua relação com Deus. Os homens do século XVI e, sobretudo, os do século XVII, não viam mais no princípio divino um obstáculo ao exercício do poder e resolvem o impasse. O "príncipe" – palavra que será daí em diante aquela que designa o detentor da soberania – é nele mesmo o seu princípio e a sua própria legitimidade. Não é mais Deus que está no princípio do exercício do poder. É, ao contrário, a "vontade franca", a vontade livre, para utilizar a expressão de Jean Bodin, em Da República (1576), que define a prerrogativa da soberania.
Não se diz praticamente nada quando se define a noção de soberania como o exercício eminente, superior e último do poder. Se acaso se resumisse apenas a isto, podia-se chamar o faraó do Egito antigo de "soberano", o que seria possível, esvaziando-se o conteúdo próprio de "soberania" na época moderna. De maneira parecida, pode-se nomear de soberano o poder que exerce sobre as almas o soberano pontífice. Ele não possui nada de semelhante com o que entendiam Maquiavel, Bodin, Hobbes e, em seguida, toda a tradição histórica e teórica do Estado moderno. De fato, a soberania implica eminência, mas ela não se reduz a isto. Ela pressupõe, isto sim, uma distinção clara entre o exercício do poder e seu princípio, distinção que, para pertencer à sua definição, não subsiste na realidade do Estado histórico.
Segundo Mairet, toca-se aqui no essencial do que se pode chamar de ideologia do Estado, que nada mais é que a ideologia do poder. O Estado soberano consistiu, segundo as modalidades históricas que lhe são próprias, na costura de uma unidade entre dois elementos de todo o poder: o princípio de poder e a forma de seu exercício. A noção capital de soberania não pode ser descartada apenas como uma querela de palavras. Ela é o elemento teórico fundamental, o meio através do qual o princípio e o exercício de poder são levados à unidade. Ao retraçar sua gênese e estrutura, pretende-se aqui sublinhar a novidade do Estado "moderno", que, desde que a noção existe, se define por ela. Quer-se aqui também sublinhar em grandes linhas a ideologia do poder, isto é, a articulação entre uma instituição (o Estado) e uma teoria (a soberania).
Lembre-se que o caráter dominante da soberania apresenta uma concepção inteiramente laicizada e profana do poder. Deus não é mais chamado como fundamento e o princípio do poder é levado do exterior para o interior. Trata-se de uma concepção imanente do poder, de maneira a encontrar a sua própria legitimidade e justificação. A execução do poder e o exercício da autoridade dependem apenas deles mesmos. A soberania requer absoluta autonomia, tanto teórica quanto prática. O sagrado não pertence à definição de poder como poder soberano. Desta maneira, o sagrado não tem mais um valor constitutivo, mas somente declarativo.
Edição Enrique Shiguematu

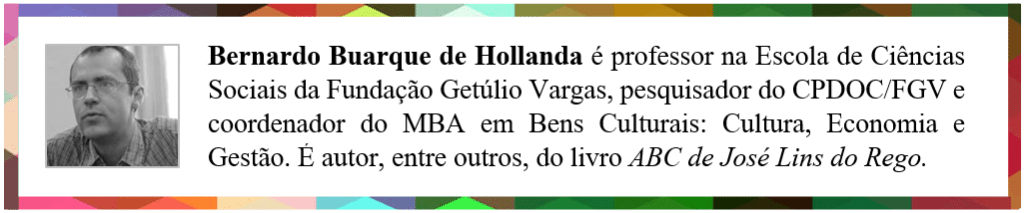
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.